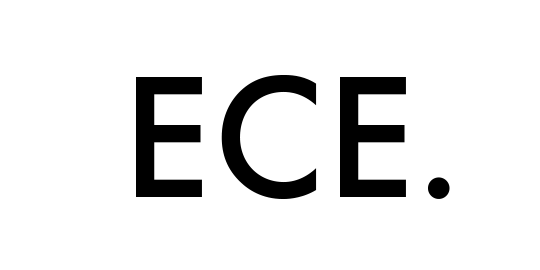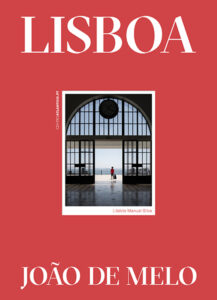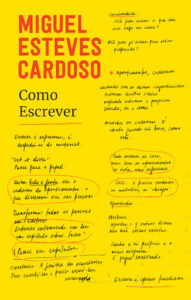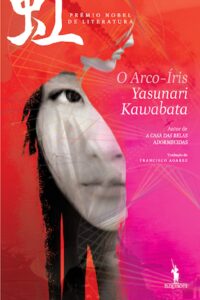Byung-Chul Han1 (BCH) é um filósofo e ensaísta sul-coreano nascido em 1959, conhecido pela análise crítica das sociedades contemporâneas, especialmente em relação à cultura digital, ao capitalismo tardio e às transformações das estruturas sociais. Han estudou engenharia metalúrgica na Coreia do Sul antes de se mudar para a Alemanha. Estudou Filosofia na Universidade de Friburgo e Literatura Alemã e Teologia na Universidade de Munique. Em 1994, doutorou-se naquela universidade com uma tese sobre Martin Heidegger. Foi professor de Filosofia e Teoria dos Meios de Comunicação na Escola Superior de Desenho de Karlsruhe e, atualmente, é professor de Filosofia na Universidade das Artes de Berlim.
O fim da sua História foi vaticinado por Fukuyama, mas o da narrativa há muito que foi percebido por Walter Benjamin – uma das referências de BCH. Com a imprensa ao serviço da difusão da informação, W. Benjamin anunciava o que hoje dá título ao livro em análise. A informação e a velocidade a que circula, com a novidade constante que lhe está inerente, são inimigos da narrativa, a qual implica tempo para ser apreendida, escutada, lida e percebida para, então, ser recordada e resgatada. Como defende o autor, “a narração e a informação são forças antagónicas. A informação intensifica a experiência contingente, enquanto a narração a reduz” (pp. 13-14).
A forma como o “tsunami informativo” nos assola conduz a uma fragmentação do tempo, avessa à continuidade que caracteriza a história, num tempo continuado e ligado com sentido – a narrativa. A informatização da sociedade terá dissolvido o fio narrativo da existência, gerando uma desorientação que se vai acentuando de forma exponencial com a pobreza da experiência proporcionada pelas plataformas sociais. Assim, a intensidade da informação e a perda da experiência autêntica, desencadeada pela superficialidade das interações nas redes sociais, são, para BCH, os grandes motores d’ “A Crise da Narração”. O vazio narrativo decorrente destas e de outras transformações sociais, inerentes às sociedades de consumo (resultantes do capitalismo), deram origem a novos conceitos e práticas, como o storytelling – a forma pela qual o capitalismo se terá apropriado da narrativa.
Na perspectiva do filósofo, essa prática é uma substituição pornográfica – porque nua da narrativa –, cujo objetivo está longe de conferir o sentido à existência que se perdeu, sobretudo, pela falta de referências superiores que o processo de secularização desencadeou. O seu propósito, é sabido, é induzir ao consumo. Mediante o storytelling, os produtos ficam carregados de emoções e instigam ao consumo de experiências especiais e personalizadas – que, além de providenciarem sensações inigualáveis, concorrem para a construção de um self distintivo. Daí a necessidade de construir uma narrativa – storytelling – em torno de um produto ou experiência para criar valor, diferenciando-a de todas as outras e distinguindo um self de todos os outros – storyselling.
Para o autor, não é pelo storytelling – para si, um fenómeno patológico – que se recuperará o sentido do ser e uma reorientação na ‘sociedade da informação’. A crise narrativa vem de longe; este ensaio discorre acerca dos seus antecedentes. Para o efeito, BCH dividiu o livro em dez capítulos, sendo o primeiro “Da narração à informação”. Recorrendo ao trabalho de Walter Benjamin, em particular “O contador de histórias”, BCH advoga que a origem da crise da narrativa dos tempos modernos se deve ao “facto de o mundo estar inundado de informação” (p. 19). O declínio da arte de contar foi ocorrendo pela profusão contínua da informação. Actualmente, a informação ultrapassou a função que Benjamin discutiu. Como refere Han, tudo é informação, inclusivamente a realidade que, com a digitalização, se transformou em dados. A velocidade deste processo é tão alucinante que a informação se converteu “numa nova forma de ser e até numa nova forma de poder” (p. 23).
Os capítulos que se seguem procuram demonstrar que o fim da narrativa está, também, intimamente relacionado com a perda da narração, a oral, da qual a sabedoria provém. Nada perdura. “A pobreza da experiência” (segundo capítulo) é tão evidente que se tornou inenarrável. A forma como tudo se partilha nas redes e plataformas sociais transforma as ‘vidas’ em dados que se extraem e convertem em números: tudo se mede nesta sociedade transparente, onde o panóptico de Bentham já não é imposto, antes auto-infligido pelo uso das tecnologias. Nos dois capítulos seguintes, “A vida narrada” e “A vida nua e crua”, Han disserta sobre o tempo enquanto coordenada antropológica. Recorrendo a Heidegger, Han coloca a narrativa como “verdadeira historicidade”. Contudo, a digitalização fragmenta a nossa atenção e arranca-nos ainda mais do “ancoradouro temporal, garante da nossa estabilidade” (p. 34). A recordação, imprescindível à narrativa, desaparece, tal é a velocidade da informação e respetivas notificações sempre a assinalarem mais uma novidade, mais uma informação, mais um lembrete, mais um like…. Resta-nos quantificar os fragmentos que não são suficientes para formar sequer um mosaico.
De facto, “o ruído comunicativo e informativo cala o vazio inquietante da vida” (p. 45). Não é estranho, por isso, que se observe um “desencantamento do mundo” (título do quinto capítulo) resultante da perda da magia. A causalidade ganhou, mas é “mecânica e exógena”, ao passo que as relações imbuídas de magia nos enredam na “sequência de uma profunda simpatia estabelecida entre as pessoas e as coisas” (p. 52).
O capítulo “Do choque ao like” reflete sobre a perda da alteridade do outro que se torna num produto consumível. Se o outro era um inferno (Sartre), com as redes sociais a sua expulsão ocorre de forma automática. No neonarcisismo só há espaço para a imagem especular do ‘ego’. Como escreve Han, “graças ao smartphone, permanecemos nesse estádio especular imaginário que preserva o ego imaginário” (p. 63). Com o mundo digital em crescente expansão, o mundo real (?) tem perdido o seu encanto, ao ponto de não reconhecermos (ou não querermos reconhecer) a diferença entre o real e o imaginário. O ‘simbólico’ da tríade de Lacan (real e o imaginário – as outras unidades) desaparece, conduzindo à derradeira erosão da comunidade.
Han concede-nos alguma esperança revitalizadora ao destacar o poder intrínseco das narrativas, elevando a “Narração como cura” (o capítulo que se segue à “Teria da narração”). O acto de escutar – centrado no outro, inspirando-o a narrar – é, no limite, uma demonstração do amor. Mas já não sabemos escutar. Desejamos ser olhados, admirados pelas stories que postamos nas redes sociais, para nos publicitar e assim nos vendermos ao outro, de quem apenas queremos captar um olhar que resulte, pelo menos, num like. Um olhar fugaz pela retina pela qual passam centenas ou milhares de imagens (informação) diariamente que se esquecem, ou melhor não se retêm mais do que alguns segundos. As ligações são, por isso, impossíveis de se estabelecerem. Como lembra Han, “estar conectado não significa estar vinculado” (p. 76). Pelo contrário.
Com “Comunidade narrativa” (penúltimo capítulo), Han traz a ideia de que as narrativas criam coesão social. O pessimismo reaparece ao evocar que a comunidade ontológica e humanizadora requer um ‘nós’ com força política necessária para (re)edificar “A Paz perpétua” de Kant, ou uma “cidadania universal”. As narrativas foram apropriadas pelo capitalismo. O storytelling vende histórias indutoras do consumo e não criadoras de hospitalidade – o ego expulsou o outro. O objetivo é consumir, é vender, por isso, as histórias, as stories, as pseudo-narrativas são antes storyselling, tendo eliminado as coordenadas antropológicas que nos orientavam. Deixou de haver tempo e espaço para a reflexão (crítica) e para a contemplação. Eu sou, logo consumo ou talvez seja: eu consumo, logo estou. Será que esta crise é derradeira?
“A crise da narração” é um contributo profícuo para a reflexão sobre a perda que Benjamin se referia nas décadas de 1930-40. Sem capacidade para reter o que nos acontece e para aprender com isso, como poderemos, nós humanos, vislumbrar o futuro com optimismo, esperança – algo que se sente igualmente em crise?
- Este artigo é um resumo de um trabalho realizado para a unidade curricular Edição na Atualidade, do Mestrado em Estudos Editoriais; dada a sua qualidade, foi publicada aqui: A_crise_da_narracao. ↩︎